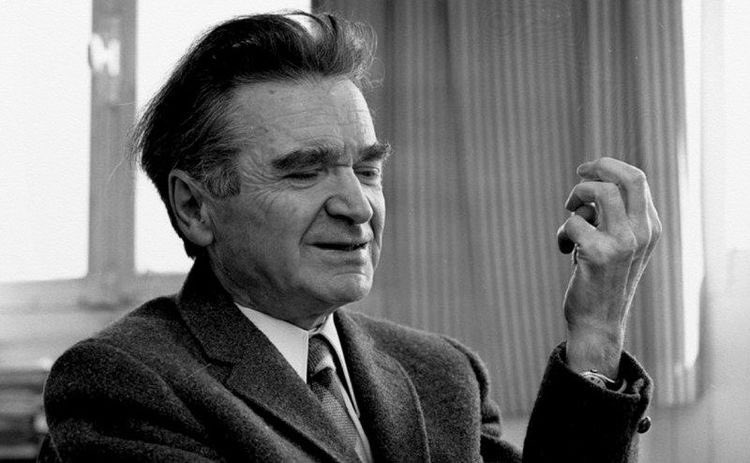
Bem sabemos como a moleza nos impede de fazer a justiça que as circunstâncias favorecem e mesmo de assentar aquilo que, num esboço no guardanapo mental, e com doses estupendas de improviso, se consegue articular de partida sem se enredar em minúcias atabafantes, mas vai-nos faltando aquela fervorosa disposição de quem acredita que com um acto vigoroso e de clareza absoluta é possível atingir e fulminar o inimigo, expondo-o de uma vez por todas, de tal modo que, sendo divulgados certos elementos constrangedores, um juízo severo viesse a impor-se na corte, sendo ordenada a sua expulsão do reino como indesejável patife. Esta ingenuidade é o que nos tem faltado, e quando se fala em estratégia na nossa corte isso significa sempre reconhecer que estamos condenados a definhar uns junto dos outros, que estamos embarcados no meio de uma turba de cretinos, e que a viagem será inteiramente feita de deriva, até cada um aos poucos se ir libertando, arranjando uma melodia íntima de acusações que o façam sentir-se digno de se lançar a si mesmo borda fora, pois afogar-se acaba por ser um destino mais digno do que persistir nesta viagem em redor de um ralo que não tem sequer a decência de nos engolir de vez. Com raríssimas excepções, esta é quase sempre uma prova de atrito, e perder significa normalmente que não se teve mais paciência para aturar a coisa. Ao mesmo tempo, e entre os que arranjam modos de recreação para se irem salvando, apostando em corridas de baratas, em lutas de pulgas, e particularmente entre os que não perderam a capacidade de sujeitar os outros a um exame escrupuloso e até demolidor, sem deixarem, no entanto, de reconhecer as suas próprias debilidades, é importante não perder aquele instinto que nos impede de forçar o ajuste de contas para lá desse ponto onde não se reconhece já a diferença entre um lado e o outro, tornando-se os adversários como presas medusadas um do outro, que vivem por aí a confessar-se miseravelmente a estranhos bisbilhoteiros. Sabemos como nesta corte, são raras as personagens sobre as quais não pairam enigmas, sinuosidades, suspeitas de todo o tipo, tantas delas variações ficcionais a partir de relatos que se abandonaram aquele aspecto mesquinho da fantasia. Vivemos dominados por aborrecimentos, mas toda a gente pode supor que a verdadeira novela de génio que nos irá abarcar a todos será aquela que consiga safar a autenticidade destes restos, e saborear à maneira de um espírito finamente perverso, com alguma sensação do justo, mas investido acima de tudo de um ânimo selvagem no que toca ao decalque paródico para render essa obra-prima da penitência que permitirá às gerações futuras gargalharem a partir dos relatos nessa espécie de folhetim moderno deste material que a nós próprios nos surge como morto, moído, comido pela traça. Somos os últimos a acreditar em nós próprios. A regozijarmo-nos com aquela exposição digníssima e mordaz naquela secura de peça processual com que João Pedro George acaba de expor Richard Zenith como um habilidoso técnico da pilhagem, destacando-se entre esse rol extensíssimo de industriosos estafermos que se atiraram ao Pessoa como esse emprego mais que certo para toda a vida, e que dá bolsas, viagens, congressos. Estamos a testemunhar todos em directo o quão suja é essa coisa da posteridade, a grande e funda que absorve tudo à volta, a mais rendosa, a que manda vir até oportunistas do estrangeiro, essa que se estende como uma empresa evangelizadora, em que os primeiro fiéis concorrem entre si com as visões discrepantes, a posteridade que nasce sempre através da articulação de uma série de equívocos desoladores, uma vez que a vítima, se vê no Além a juntar à miséria e à indiferença que colheu no tempo que por cá andou ainda toda essa do tempo que se segue, ainda por cima, sem fazer o menor proveito, sem poder vir retrucar ou zurzir este ou aquele. É tenebroso tudo isto. Essa frase interminável e que se mete a fazer de um homem assunto, a permitir que se instale sobre os factos da sua biografia aquele regime da devassa, da intriga mais odiosa, e tudo sustentado sob o refrão da glória, à medida que nos vamos perdendo daquele sumptuoso mistério e da possibilidade de verdadeira surpresa e fascínio ao depararmo-nos como uma insuspeitada catedral. Tudo é reles neste frenesi dos vermes intelectuais, e é ao darmo-nos conta de como todos parecem ainda inebriados com a perspectiva de se verem cercados de um culto semelhante que ficamos apavorados com a mediocridade das aspirações da nossa época, destes escritores que existem para alimentar o semanário, destes poetas que nunca se recusam a nada, e que se deixam vulgarizar ao serem alvo de artigos encomiásticos, listas e pódios sempre com o pretexto de fazer funcionar um ambiente de feira, de espectáculo. Poetas e escritores, mesmo desses que chegámos num ou noutro momento a respeitar nós mesmos, a exaltar, e que nos damos conta, tarde demais, como apresentam as suas candidaturas ao concurso para saber quem é “o maior”; estando sempre a decorrer alguma etapa deste programa em que eles são vistos a galopar como cavalos de corrida entre o mastigar ruidoso que já nem sequer é de uma multidão mas, tão-só, de um bando de ridículos aspirantes. É a imundície da imaginação o que nos gela, a forma como nos rouba de alguns espíritos que prometiam algo mais, mas que acabamos por ver por aí desprovidos de formato pessoal, e é por isso, por não podermos contar com ninguém, com figuras que se animem e regozijem furtando-se e esquivando-se por todos os meios, por não haver casos suficientes para encherem uma mão, é que “a história desta literatura deve ser escrita ao contrário”, aproveitando a pista que nos oferece Witold Gombrowicz nas páginas do seu diário. E ao contrário quer dizer “como a história daquilo que não foi realizado”. “É melhor”, diz-nos ele, “estarmos orgulhosos e sermos firmes na rejeição de tudo aquilo que realmente não está ao nosso nível; só tal política nos preservará da humilhação.” Ou seja, mesmo que a tal novela expondo os elementos pútridos do enredo de que nos vemos cercados não venha a ser escrita, devemos lidar como se essas linhas estivessem a alimentar-se destes pequenos dramas entorpecentes, a aproveitar-se deles para uma redescrição estupenda, com aquele dom da invectiva épica, aquela sagacidade de um atirador exímio, que tem antes de tudo esse instinto de reservar o tiro para o momento em que se exponha a ocasião mais adequada, de forma a não disparar prematuramente, nem perder a cabeça e a ocasião de um deleite tão raro. No fundo, é na narrativa que compõe sabendo aconselhar-se junto das sombras, fazendo a observação mais acutilante, num espírito de abandono, de modo a que o seu relato montado a partir de restos ressoe admiravelmente, prenhe de malícia e daquela fantasia vingativa. Para isso é preciso combinar elementos opostos, reconhecendo como temos ao nosso dispor matéria mais do que suficiente para encher quantos tomos nos apeteça dessa futura “odisseia do rancor”. A expressão é de Cioran, que nos fez ver como pouco o quanto temos desaproveitado esse ímpeto que nos oferecem os nossos inimigos. “Decididamente, ter inimigos está longe de ser uma sinecura.” Mas e se, em vez do assalto a um autor, de nos ficarmos pelo esparso enredo que permiti a mitificação da sua obra, passando ao lado do resista como matéria para a reflexão e assombro, e se em vez de cercearmos os nossos piores instintos, se em lugar desta choldra onde nos vemos a cada dia “condenados a vigiar e a refrear a nossa ferocidade, a deixá-la sofrer e gemer dentro de nós, encurralados como estamos na contemporização, na necessidade de adiarmos as nossas vinganças ou de renunciarmos a elas” (Cioran), e se buscássemos algum equilíbrio e satisfação usando dos dotes e do empenho da narrativa literária para liquidar o demolir as presunções de um bom número dos nossos semelhantes? O que nos impede de nos consagrarmos à prática do massacre, interroga Cioran. Na verdade, a modorra e o fastio em que nos vemos enleados é um sinal desse cúmulo de hipocrisia social de um país que não passa realmente de um sítio, onde todos estão confinados a um enredo bastante patusco, a sufocar nessas malhas tecidas por personalidades doentias, cujo talento se adequa perfeitamente a esta intriga urdida a partir de uma hostilidade apenas latente, uma competição devastadora nos seus efeitos, mas que permite manter um ambiente de zelo e respeito, apenas para nos descoroçoar e submergir em soluções de formol. Cioran coloca a hipótese de nos estarmos a tornar impuros “através do ódio que sufocamos em nós”. “O inimigo poupado obsidia-nos e perturba-nos singularmente quando resolvemos deixar de o execrar. Por isso não o perdoamos deveras a não ser que tenhamos contribuído para a sua queda ou assistido a ela, a não ser que ele nos proporcione o espectáculo de um fim ignominioso ou, reconciliação suprema, a não ser que contemplemos o seu cadáver.” Percebo bem como tudo isto é demasiado rude, cruel demais para esse registo piedoso que entretêm entre nós as sublimes almas que perdem algum tempo com as páginas literárias, ainda que não consigam contrariar esse apelo que tem sobre elas estas mais sujas e truculentas. O problema é que sobrecarregamos as nossas noites, sobretudo se não somos capazes de admitir perante nós próprios a quantidade de horas que nos apanham naquele ranger de dentes no escuro. “Aplicamos o melhor das nossas vigílias a esquartejar em pensamento os nossos inimigos, a arrancar-lhes os olhos e as vísceras, a espremer-lhes e a esvaziar-lhes as veias, a espezinhas e esmagar cada um dos seus órgãos, ao mesmo tempo que por caridade lhes deixamos o gozo do seu próprio esqueleto. Feita esta concessão, acalmamo-nos, e, repassados de fadiga, deixamo-nos deslizar para dentro do sono. Repouso bem ganho depois de tanto encarniçamento e tanta minúcia.” (Cioran) Esta é a verdadeira matéria literária que nos cabe explorar, e enquanto continuarmos a recusar-lhe o seu espaço nenhuma outra virá oferecer-se em seu lugar, pois não mostrámos ter em nós esse desastroso ímpeto capaz de revirar e incendiar uma época. Ninguém que eu esteja a ver daqui tem sido capaz de se fazer valer desses elementos que que estão por todo o lado, que carregam o ar e o tornam irrespirável, ninguém tem sabido arquitectar um relato que os ordene e consegui solvê-los, de tal modo que estes nos paralisam, e perdemos todo o dinamismo, toda a motivação. E é só em polémicas que nunca chegam a atingir aquele fragor de uma verdadeira batalha épica que se colhem alguns indícios disso que realmente explica a forma como vivemos obstruídos uns pelos outros. Esta tempo exige a sua dose de violência é no campo cultural, para depois não ir saciá-lo em lugares onde isso significa pagar um preço alto demais e até irreversível. A literatura é precisamente essa margem para obtermos alguma satisfação e para consumirmos os nossos antagonismos que, de outro modo, nos devastam interiormente. O signo deste tempo é o cancro, e a sua expressão é a exaustão permanente. Quem disputaria a noção de que seria muito mais instrutivo e electrizante um virulento romance retratando estas quezílias e querelas que nunca se solvem, uma obra que fizesse um retrato das bulhas entre os diferentes clãs dos pessoanos, uma ampliação selvagem mais do que meramente caricatural, dando até uma certa dignidade dramática a figuras bastante circunspectas e até amorfas? Certamente, Camilo ou Eça não desperdiçariam esta oportunidade para engatilhar num estilo buliçoso frechadas dessas que ficassem a ecoar pelos séculos fora. E a situação tem sido agravada por todos os modos de insuficiência que nos são característicos, pela falta de inteligência, de sentido de oportunidade e de vigor criativo e crítico que leva os que têm espaço nos jornais a só prestarem atenção ao que é distractivo, a programas e peças que chegam de fora e são encenadas às três pancadas por cá. Estamos tão atrasados em relação a nós mesmos. E quando se espera da literatura que esta tenha um poder de actuação subversiva, embora muitos a isso aludam, não fazem a menor ideia do que quer isto dizer. Pois a resposta começa como sempre pelo riso. E não deixa de ser indicativo o facto de serem amados como heróis esses que, num ambiente de miséria e degradação, tem a capacidade de nos recuperar animicamente, fazendo-nos rir. Mas nós estamos tão desabituados desse riso terrível capaz de desmanchar uma sociedade, que apenas nos rimos com palhacitos sem uma ponta de ameaça, testados e pagos principescamente para sentirem um certo nojo das baixarias e do destempero do carnaval, e depois designados para preencher os intervalos entre os números imbecilizantes no nosso cabaré tristonho. Rimo-nos e elevamos a herói um palhacito como o Ricardo Araújo Pereira, símbolo mais elevado do triunfo desses que atraiçoam todos os dias a compulsão herética e quase diabólica de um verdadeiro bufão. Estes palhaços que nos servem estão a dar cabo de nós, e, porque já não sabemos rir nem para mantermos o nível, para não sufocarmos, porque o nosso riso de hoje se tornou nosso inimigo, temos de entender que para o recuperarmos este "já não pode ser espontâneo ou automático – tem de ser o riso premeditado, um humor aplicado com frieza e seriedade, tem de ser a aplicação mais séria do riso à nossa tragédia”, como explica Gombrowicz. “Este riso, ditado por terríveis necessidades, deve abarcar não só o mundo dos inimigos, mas acima de tudo nós mesmos e aquilo que temos de mais caro.” Sem este sentido que possa enfim vingar sobre todos os vícios e os sinais da nossa bisonhice congénita, continuaremos enredados em modelos moralizadores que apenas nos seviciam e afundam ainda mais na degradação e na impotência em que nos querem aqueles que vão perpetuando a sua rede de favores e privilégios, este regime que nos priva até da sensibilidade da nossa desgraça, e nos impede de forjarmos, nem que seja nos limites do recreio literário e para nós próprios, um ousado projecto de motim. Então, a pergunta que se nos impõe é uma vez mais aquela que foi feita por Michaux: “A cada século a sua missa. Este, o que espera para instituir uma grande cerimónia do nojo?”

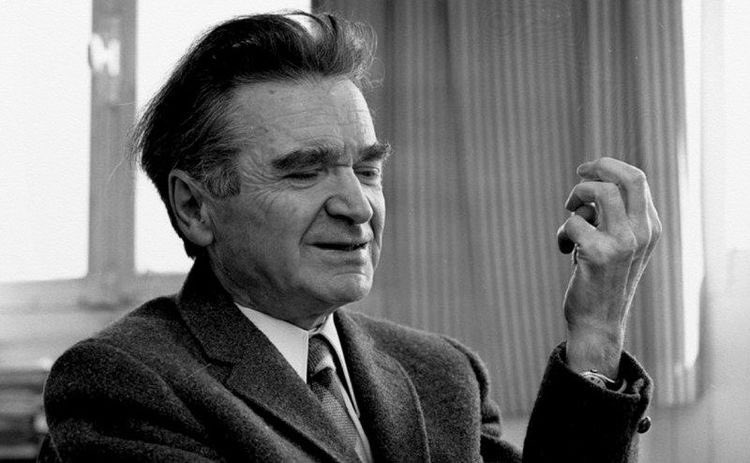

Comentários
Enviar um comentário